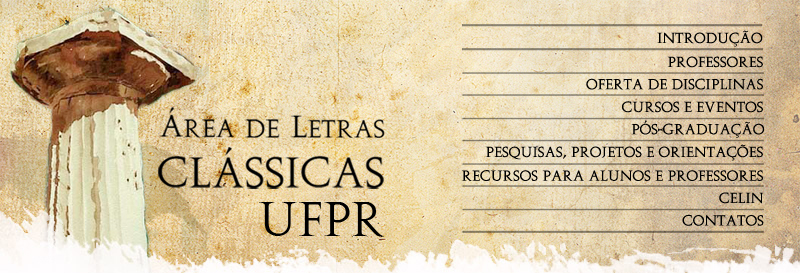
Cursos e Eventos
Evento de Extensão: II Simpósio Antigos e Modernos - UFPR: “Caminhos da alteridade: o outro na religião, na história, na literatura”
Principal | Comissão | Programação | Inscrições | Resumos | Contato
Resumos: Índice
Dias 04, 05, 06 (19h-21h)
Minicurso: Uma leitura do outro: língua e literatura mesopotâmicas
Profa. Dra. Katia Maria Paim Pozzer (ULBRA)TERÇA-FEIRA (04/11)
Poetas e filósofos: “outros” privilegiados no discurso historiográfico
Profa. Dra. Sandra Lúcia Rodrigues da Rocha (UnB)A Comédia Nova latina: o gênero como prisão órfica da linguagem
Prof. Rodrigo T. Gonçalves (DLLCV-UFPR)O 'Modo romano' de traduzir: apropriações romanas na história da tradução
Álvaro Kasuaki Fujihara (Mestrando em Letras – UFPR)Retórica da Sedução em Górgias e Aristóteles
Joseane Prezotto (Mestranda em Letras – UFPR)Releituras de Épica: Gênero, Tradução e Criação
Luana de Conto (Graduanda em Letras UFPR , bolsista do CNPq)QUARTA-FEIRA (05/10)
A metamorfose no romance latino: entre homens, lobisomens e asnos
Profa. Dra. Sandra M. G. B. Bianchet (UFMG)Discurso religioso na prosa romanesca e biográfica
Prof Dr. Pedro Ipiranga Júnior (UFPR)Marginalidade e Transgressão: algumas considerações acerca do Satyricon de Petrônio
Profa. Dra. Renata Senna Garraffoni (DEHIS/UFPR)Análise Crítico-Literária e Tradução da Carta das Igrejas de Viena e Lião - Entre as mais Antigas Atas de Mártires
Prof. Elias Santos do Paraizo Junior (professor CELIN/UFPR)A alteridade no discurso romanesco na Ciropedia de Xenofonte
Vinícius Barth (Graduando em Letras UFPR, bolsista do CNPq)A Filosofia Cínica em discurso com o Hades luciânico
Priscila Buse (Graduanda em Letras UFPR, bolsista do CNPq)Sobre asnos e escravos: notas sobre a imagem do escravo nas Metamorfoses de Apuleio
Beatriz Ávila Vasconcelos (Doutoranda na Universidade de Humbold, Berlim)QUINTA-FEIRA (06/11)
Musicistas, poetisas e artesãs na Grécia antiga. Reflexões sobre a alteridade feminina no mundo do trabalho e na vida intelectual e artística
Prof. Dr. Fábio Vergara Cerqueira (UFPEL)Corina: desnudamento do desejo masculino
Torpe Tarpéia? (Propércio IV, 4)
Profa. Irene Cristina Boschiero (UTP)
Prof. Guilherme Gontijo Flores (UFPR)O músico como outro em Homero e Hesíodo
Prof. Dr. Roosevelt Araújo da Rocha Júnior (UFPR)Análise de imagens em artefatos: um conjunto de categorias
Silvia Moras (Graduanda em Belas Artes)Panathenaia: imagens de um festival
Camilla Miranda Martins (Graduanda em História, bolsista IC CNPq/PIBIC)Jean León Gérôme: a reconstrução da Antiguidade a partir da pintura
Fabrícia Minetto (Graduanda em História)Historiografia e Sátiras - um diálogo possível
Lorena Pantaleão da Silva (Graduada em História)Ocidente, o Outro de Bizâncio. O olhar bizantino de Ana Comena sobre o Ocidente através de "A Alexíada"
Fábio Lins (Graduado em Letras pela UFRJ)SEXTA-FEIRA (07/11)
James Joyce e o romance como forma de instituir um Outro
Prof. Dr. Caetano Waldrigues Galindo (UFPR)A biógrafa como o Outro: As meninas, de Agustina Bessa-Luís
Profa. Dra. Anamaria Filizola (UFPR)Caminhos da alteridade
Profa. Dra. Ana Maria Burmester (UFPR)Formas radicais de alteridade: a ficção científica de H. G. Wells
Prof. Dr. Vidal Antonio Azevedo Costa (UFPR)A morte da narrativa através do duplo
Prof. Dr. Vinícius Berlendis Figueiredo (UFPR)O "Projeto de Ética Mundial": Hans Küng e os limites do diálogo inter-religioso
Prof. Dr. Paulo Astor Soethe (UFPR)A determinação recíproca entre pathos e ethos discursivo
Profa. Dra. Lígia Negri (UFPR)Imagens não-reveladas, verdades provisórias
Profa. Dra. Patrícia Cardoso (UFPR)Refiguração de personagens gregas na obra de Agustina Bessa-Luís
Edenílson Mikuska (Mestrando em Letras – UFPR)O "outro" interior nas Cartas a Lucílio de Sêneca
Prof. Dr. Alessandro Rolim de Moura (UFPR)
Resumos: Caderno de Resumos
Minicurso: Uma leitura do outro: língua e literatura mesopotâmicas
Profa. Dra. Katia Maria Paim Pozzer (ULBRA)
Dias 04, 05, 06 (19h-21h)O curso está dividido em cinco tópicos: os três primeiros propõem uma visão panorâmica da escrita cuneiforme, das línguas mesopotâmicas e da história dos deciframentos; o quarto trata da formação dos escribas, da pedagogia e da realidade escolar; o quinto apresenta a diversidade de composições literárias, como epopéias, mitos, hinos religiosos, textos mágico-medicinais. Leitura e análise de alguns exemplos da Literatura Mitológica: Enûma Eliš, O Poema de Erra, A Epopéia de Gilgameš, Atra-hasîs e Inanna e Šukaletuda.
Poetas e filósofos: “outros” privilegiados no discurso historiográfico
Profa. Dra. Sandra Lúcia Rodrigues da Rocha (UnB)
TERÇA-FEIRA (04/11)O discurso da prosa historiográfica grega no século V se constrói numa dialogia constante com outros discursos que se propõem a contar uma verdade ou que, por tradição, sejam considerados como portadores de verdades históricas, ou que abordem determinado tema sob critérios de rigor e exatidão. Tais relações dialógicas se conformam às vezes pela correção, às vezes pela afirmação que o autor faz sobre o que outros tenham dito, como ocorre com o dizer dos poetas e, às vezes mais indiretamente, com o dos sofistas. Nessa sistemática referência ao dizer do Outro, ora explícita, ora sugerida, é que se vai tecendo a identidade e a distinção do historiador grego como o portador ou manipulador de uma verdade esclarecedora, resultado da análise da(s) sociedade(s), em relação às outras vozes correntes. Minha conferência tratará basicamente das formas diretas e indiretas por meio das quais Heródoto e Tucídides operam essa distinção individual em seus discursos com relação à voz dos poetas – especialmente de Homero – e dos filósofos sofistas – particularmente Antifonte e Górgias.
A Comédia Nova latina: o gênero como prisão órfica da linguagem
Prof. Rodrigo T. Gonçalves (DLLCV-UFPR)TERÇA-FEIRA (04/11)Nesta comunicação, pretendo olhar para o gênero literário como uma das instâncias do aspecto criativo da linguagem (também chamado de "caráter ativo da linguagem na construção da imagem da realidade" ou "atividade constitutiva") como definido por Wilhelm von Humboldt, Adam Schaff, Ernst Cassirer, George Steiner e Carlos Franchi. Para esse conjunto de visões, a linguagem permite transgressões de limites impostos pelas visões tradicionais das teorias que tratam a linguagem como mero reflexo da realidade objetiva. Além disso, o aspecto criativo permite uma espécie de auto-regulação da linguagem, através do alargamento de seus próprios limites. O trabalho literário, especialmente quando visto sob a ótica das teorias dos gêneros (seguirei as posições de Bakhtin), se dá de modo análogo ao da linguagem ordinária. Assim, olharei para o gênero enquanto molde que se refaz e se expande através do caráter ativo da linguagem literária na construção de mundos de alteridade e transgressão de convenções de gênero. Isso será feito especialmente pensando no modo como o gênero da Comédia Nova grega recebe novas conformações ao ser implementado em Roma no período de Plauto e Terêncio. Analisarei os afastamentos do molde genérico da comédia grega para fins cômicos neste gênero, pensando ao mesmo tempo na discussão que Bakhtin faz acerca dos gêneros sério-cômicos.
O 'Modo romano' de traduzir: apropriações romanas na história da tradução
Álvaro Kasuaki Fujihara (Mestrando em Letras – UFPR)TERÇA-FEIRA (04/11)Embora eventualmente se tome Cícero como fundador do pensamento ocidental sobre tradução, o próprio Cícero não se apresenta como alguém inovador - pelo contrário, boa parte de seu argumento vai no sentido de se vincular a uma tradição já estabelecida (De Optimo Genere Oratorum). Dentre os nomes citados por Cícero como pertencentes a essa tradição encontra-se o nome de Terêncio, autor que apresenta uma reflexão assaz interessante sobre um tema que em muito se relaciona à tradução, se não pudermos dizer que se trata mesmo de tradução, e que em vários aspectos antecipa preocupações ciceronianas. No século XVII, D’Ablancourt aponta Cícero e Terêncio como exemplos do que seria o procedimento ideal de tradução, vinculando-se, de certa forma, à essa tradição, de que faria parte também Horácio. Também Nietzsche no século XIX se refere a um certo procedimento comum que ele identifica como tipicamente romano, no que concerne ao modo de se apropriar de e traduzir autores gregos. O presente trabalho pretende analisar o modo como autores posteriores fazem uso das reflexões desses autores romanos, concentrando-se especialmente em Terêncio e Cícero e na forma como esses autores aparecem na história das reflexões sobre tradução.
TERÇA-FEIRA (04/11)Meu intuito é apresentar uma leitura do Elogio de Helena de Górgias de Leontinos em comparação com os capítulos 1 a 11 do livro II da Retórica de Aristóteles. Nesta comparação, busco caracterizar os artifícios retóricos de Górgias dentro da visão aristotélica do orador enquanto agente de ‘paixões’, procurando semelhanças e divergências no tratamento dado às emoções pelos autores.
Releituras de Épica: Gênero, Tradução e Criação
Luana de Conto (Graduanda em Letras UFPR , bolsista do CNPq)TERÇA-FEIRA (04/11)Este trabalho põe em discussão o gênero épico, um gênero marcadamente ligado a uma temática histórico-nacional. Relacionando gregos e romanos, são focalizados os poemas homéricos e também a épica virgiliana. Procura-se discutir também como estes poemas chegaram até nós, em especial no que diz respeito às suas traduções mais conhecidas – a versão de Odorico Mendes e a de Carlos Alberto Nunes. Lança-se ainda um olhar para a tentativa de produção épica deste último tradutor, que lançou mãos à obra de produzir um poema épico brasileiro, intitulado Os Brasileidas.
A metamorfose no romance latino: entre homens, lobisomens e asnos
Profa. Dra. Sandra M. G. B. Bianchet (UFMG)
QUARTA-FEIRA (05/10)As duas únicas obras de ficção em prosa no universo da literatura latina – Satyricon de Petrônio e Metamorphoseon ou Asinus aureus de Apuleio –, se estruturam de modo a incluir, na linha diegética central, uma série de histórias curtas, que envolvem a utilização de temas semelhantes: são episódios de cunho erótico e de feitiçaria e magia. Nesses passos, o foco narrativo é transferido do narrador autodiegético para um personagem secundário, que assume a vez e a voz da narrativa. O narrador em primeira pessoa, que apresenta suas próprias aventuras, transforma-se, pois, em ouvinte das aventuras alheias, as quais ele reproduz como citação, mantendo a 1a pessoa – ou seja, muda-se o ‘eu’ da narrativa. Especificamente em relação a episódios de feitiçaria e magia, tem-se como tema principal a metamorfose, a transformação em outro ser por obra das artes mágicas. A transfiguração no outro está presente no Satyricon mais especificamente no grupo de episódios da Cena Trimalchionis, quando o anfitrião convoca um de seus amigos a contar uma história fantástica, para, logo em seguida, ele próprio contar uma outra história maravilhosa (Sat. 61-63). No Asinus aureus a inserção de histórias breves configura-se como uma estratégia discursiva de uso mais recorrente; além disso, as histórias inseridas apresentam uma conexão mais direta com a narrativa principal da obra, já que o tema da magia é o motus da narrativa de Lúcio: literalmente, é o que coloca o narrador em movimento e desencadeia toda a série episódica por ele desenredada. Para além do objetivo declarado pelos autores de deleitar os ouvintes/leitores através dessas histórias breves, interessa aqui analisar a inserção de contos como um dos elementos essenciais da composição e estruturação do gênero ‘romance’ em sua origem.
QUARTA-FEIRA (05/10)A proposta desse trabalho se assenta nas questões seguintes: como o aspecto o aspecto religioso é enfocado em obras romanescas e qual sua função; como o discurso religioso interfere na concepção do gênero romanesco na Antiguidade. Na perspectiva de propor um direcionamento para essas questões, vamos utilizar como referencial para nossa análise algumas concepções sobre o fenômeno religioso que relevam de várias obras de Luciano de Samósata, quer nos diálogos, quer nas obras biográficas, quer nas narrativas romanescas. Num tipo de relato biográfico, assinado e em forma epistolar, a intenção de Luciano é, de certo modo, promover uma mímesis (no sentido aqui de uma refiguração crítica) de relatos de bíoi, na qual se encena a ação moral de uma figura que, a exemplo de Peregrino, sincretiza ou justapõe adesão filosófica e crença religiosa. Enquanto em algumas obras luciânicas, a conversão a uma corrente filosófica diz respeito a um páthos no discurso, em obras cristãs romanceadas, a encenação do páthos da escolha religiosa está vinculada a um discurso de caráter testemunhal e que versa, de uma forma ou de outra, sobre prodígios. Dessa forma, tratamos nesse trabalho de delinear a constituição desse páthos do discurso em obras, pagãs e cristãs, em que o aspecto religioso é o traço direcionador e catalisador da narrativa.
Marginalidade e Transgressão: algumas considerações acerca do Satyricon de Petrônio
Profa. Dra. Renata Senna Garraffoni (DEHIS/UFPR)QUARTA-FEIRA (05/10)A presente comunicação tem por objetivo um diálogo interdisciplinar entre História e Literatura Clássica. Partindo da noção que as sátiras têm cada vez mais atraído os historiadores para um estudo mais plural do mundo romano, a idéia central é explorar a potencialidade da obra de Petrônio para uma análise das camadas populares romanas e, conseqüentemente, da construção do outro no cotidiano do Alto Império.
Análise Crítico-Literária e Tradução da Carta das Igrejas de Viena e Lião - Entre as mais Antigas Atas de Mártires
Prof. Elias Santos do Paraizo Junior (professor CELIN/UFPR)QUARTA-FEIRA (05/10)Esta carta, em grego, foi enviada da Gália às igrejas da Ásia e Frígia, sobre a perseguição ocorrida em Lião (177), está conservada da História Eclesiástica de Euzébio. Constitui admirável documento do espírito dos antigos mártires, transcende em importância, razão pela qual se procura demonstrar que nenhum estudo da Igreja pode ser completo sem a discussão das Atas dos primeiros mártires. Há muito, eruditos têm confiado na monumental coleção destes Atos do marista T. Ruinart, e sua Acta primorum martyrum (1689); e na grande coleção de vitae e passiones dos Jesuítas, Antwerp (1643), J. Bolland. Porém, não é muito grandiosa a tarefa de justificar a necessidade de novas edições críticas e traduções para os Atos e Relatos de Martírio, ferramentas tão necessárias a todos os estudantes do império romano e da história do cristianismo primitivo. As pesquisas em grego e latim amplamente dispersas neste gênero, e a existência de diferentes recensões adicionais tornam delicado o surgimento de alguma edição; comentários e traduções são esparsas, ou não existem. Na literatura martirológica, o autor abarca questões como as nomenclaturas Ata, Paixão-Martírio e Lenda, que tratam da prisão, do processo e execução; também que sociedade e religião estiveram fundadas no mecanismo do bode expiatório e na possibilidade de sua repetição simbólica no rito sacrifical até o advento do Cristianismo, quando o mecanismo sacrifical é revelado e inutilizado. Doravante o conflito mimético, em vez de mediatizado pela coletividade, é apresentado à consciência, onde adquire sentido moral e ascético. O que diferencia o Evangelho dos mitos antigos, ou do mito como tal, é a revelação cristã acerca da inocência da vítima e da culpa da coletividade homicida. Os relatos de martírio registram o momento em que se dá o embate civilizacional entre a ordem sacrifical e a ordem cristã, do qual não por acaso o Cristianismo sai vitorioso na exata medida em que abdica da guerra. Até o final do séc. II cerca de 80 mil cristãos foram mortos, e como declarara Tertuliano: “o sangue dos mártires é semente de cristãos”. Além da análise crítico-literária, das questões de gênero e aspectos históricos deste martírio, o escopo será a tradução bilíngüe a ser apresentada a partir de uma edição crítica.
A alteridade no discurso romanesco na Ciropedia de Xenofonte
Vinícius Barth (Graduando em Letras UFPR, bolsista do CNPq)QUARTA-FEIRA (05/10)A Ciropedia, obra ao mesmo tempo biográfica e ficcional, trata da educação de Ciro, notável imperador persa. Aqui, tanto o contexto biográfico como o contexto romanesco, que se misturam invariavelmente, servem de pano de fundo para o elogio ao modelo educacional - Paidéia - proposto por Xenofonte. A análise desta apresentação se dará especificamente à presença da personagem Panteia e suas relações com Ciro, Araspas e Abradatas. Os trechos relativos à presença da princesa revelam os discursos mais fortemente ficcionais dentro da obra, o que culmina em uma construção erótica e psicológica refletida nos personagens citados e distanciam Xenofonte de uma possível fidelidade histórica dos fatos.
A Filosofia Cínica em discurso com o Hades luciânico
Priscila Buse (Graduanda em Letras UFPR, bolsista do CNPq)QUARTA-FEIRA (05/10)A obra de Luciano de Samósata exerce uma crítica cáustica sobre o mundo e seus atuantes. É desse universo que avulta uma valorização pelos tipos sociais – os ricos, os belos, os poderosos, os filósofos, os aduladores – que, para além de universais e conformes aos grandes modelos literários do passado, têm uma dimensão objetiva no mundo que envolve o autor. Em Diálogos dos Mortos temos a utilização do Hades como cenário para o eterno exercício de análise da figuração do outro. Ali, distanciada do mundo dos vivos, onde prevalecem leis desiguais, a crítica se liberta das dúvidas que resultam da própria limitação do juízo humano, se cobrindo de licitude e certeza, e podendo, desse modo, assumir a forma sarcástica, presente no discurso cínico. Assim, a Filosofia Cínica assume, em Luciano, características de ideal. A ela cabe o papel de deflagradora dos vícios e enganos humanos, das injustiças e inconformidades que davam o tom à vida de outrora. É em grande medida na voz da personagem Menipo – em vida, fundador da Escola Cínica –, que Luciano evidencia o absurdo da existência. Por ter praticado uma vida correta, se abstendo dos bens materiais e dos prazeres ilusórios do mundo, o cínico quando chega ao Hades, possuiu a clarividência e a autoridade para criticar e mesmo ridicularizar o outro. Dessa forma, a censura à sociedade é ostensivamente posta nos diálogos estabelecidos entre Menipo e as demais personagens, tenham elas sido em vida, ricos, heróis, grandes filósofos, como Sócrates, ou mesmo aqueles que aspiraram à qualidade de semi-deus como Alexandre.
Sobre asnos e escravos: notas sobre a imagem do escravo nas Metamorfoses de Apuleio
Beatriz Ávila Vasconcelos (Doutoranda na Universidade de Humbold, Berlim)QUARTA-FEIRA (05/10)Escravos são presença constante nas Metamorfoses de Apuleio. Eles têm um papel importante, tanto na ação quanto na ambientação social deste romance, o que fez com que ele fosse prezado como fonte por diversos estudiosos da escravatura antiga. Mas o mundo da escravatura marca a obra também em níveis mais sutis. Já no plano lingüístico expressões e termos próprios da escravatura são utilizados metaforicamente para descrever, por exemplo, relações amorosas, a submissão de um devoto a seu deus, a condição de um animal sob a posse de seu dono. Também o protagonista e narrador do romance, o jovem aristocrata Lucius, deixa-se facilmente interpretar como um símile grotesco da servidão humana: transformado por magia em um asno, ele sofre nesta condição os piores trabalhos e maus-tratos, passa das mãos de um senhor a outro e faz incansáveis tentativas de fuga. Do mesmo modo, sua re-humanização pela graça de Isis e sua iniciação nos mistérios da deusa são descritos em termos semelhantes aos de uma alforria romana (manumissio). A interpretação da figura do asno Lucius como um símile do escravo é o tema da presente comunicação. O objetivo é mostrar em que medida essa criação literária do asno-escravo no romance apuleiano corresponde alegoricamente a uma representação social do escravo como gênero sub-humano, o qual, no imaginário antigo, sempre esteve associado aos animais de trabalho. Espera-se com isso ressaltar o papel da literatura ficcional de conferir ao fenômeno social e econômico da escravatura, estrutural no mundo greco-romano, também uma dimensão simbólica.
Musicistas, poetisas e artesãs na Grécia antiga: reflexões sobre a alteridade feminina no mundo do trabalho e na vida intelectual e artística
Prof. Dr. Fábio Vergara Cerqueira (UFPEL)
QUINTA-FEIRA (06/11)O conceito de alteridade pode estar a serviço da reflexão sobre vários temas de estudo, um deles é a questão de gênero. Abordaremos aqui o "outro feminino", propondo um desenvolvimento ao tema que se insere na revisão em curso, desde meados dos anos 1990, sobre a condição da mulher na Grécia antiga. Abordaremos aqui aspectos relativos à participação de mulheres no mundo do trabalho e na vida intelectual e artística, analisando de forma cruzada evidências iconográficas e literárias. Esse "outro feminino" poderá ser encarado de duas formas: o outro com relação à mulher antiga tipificada na literatura histórica do século XX ou o outro com relação à ideologia misógina hegemônica na pólis grega. O estudo acerca das musicistas, poetisas e artesãs é desafiante, pois não somente permite colocar em cheque alguns axiomas sobre os estudos de gênero no Mundo antigo, mas nos permite igualmente verificar situações cotidianas que desafiam um modelo social dominante, que propugnava a completa exclusão feminina. Partindo da iconografia, propomos considerar sob uma nova perspectiva algumas evidências reportadas pela tradição literária, cujas implicações não têm sido devidamente valorizadas nas narrativas históricas sobre a mulher na sociedade grega antiga: este o caso das referências imagéticas e literárias a oleiras, vendedoras de óleo, coletoras de frutas, tecelãs, poetisas, professoras, musicistas.
Corina: desnudamento do desejo masculino
Profa. Irene Cristina Boschiero (UTP)
Torpe Tarpéia? (Propércio IV, 4)
Prof. Guilherme Gontijo Flores (UFPR)QUINTA-FEIRA (06/11)A partir de um perspectiva ambígua de leitura do genêro elegíaco romano, pretendo fazer a análise de uma elegia (IV, 4) em que Sexto Propércio renarra o famoso mito da traição de Tarpéia, seguindo uma versão pouquíssimo usual da tradição. Assim, pela mudança de posição subjetiva, uma vez que o poema se apresenta na primeira pessoa da própria Tarpéia, podemos fazer uma releitura da representação mulher, eterno Outro das sociedades patriarcais, no mundo romano do começo do Império, bem como apontarmos até que ponto a poesia de Propércio é capaz de fugir desse lugar comum.
QUINTA-FEIRA (06/11)Partindo de trechos selecionados da Ilíada e da Odisséia, de Homero, e da Teogonia e dos Trabalhos e Dias, de Hesíodo, pretendo mostrar que existia uma ambigüidade fundamental na maneira como os gregos construíam a imagem da música e dos músicos. Por um lado, a música era algo que tinha origem divina e que estava intimamente ligado a divindades que ocupam um lugar central no panteão e na mitologia dos antigos gregos. Contudo a atividade do músico era mal vista e tratada como algo pejorativo, indigno de alguém nobre, mesmo que em alguns momentos pessoas da aristocracia apareçam tocando um instrumento musical. Depois de demonstrar a existência dessa ambigüidade, pretendo propor uma explicação para esse fato, com base na maneira como os gregos tratavam a ‘profissão’ do músico-poeta.
QUINTA-FEIRA (06/11)Por meio de algumas das categorias de análise de imagens tomadas do campo da arte, desenvolvidas por Rudolf Arheim em Arte e Percepção Visual, são buscadas as evidências da presença do Oriente na produção cerâmica grega de figuras negras com temática de animais, do período orientalizante ( séc VIII e VII a.c) e arcaico (séc VI e V a.c.), de Corinto e Atenas respectivamente. Comparando artefatos do Levante e Egito na antiguidade aos vasos cerâmicos gregos daquele período, se poderá ter em mãos possíveis evidências que servirão de fundamentação para um debate com historiografias do séc XIX e XX, as quais teriam omitido ou subestimado as influências do Oriente na formação da cultura grega antiga. A partir desta Grécia branca e culturalmente homogênea, teria se estabelecido a identidade do Ocidente dissociada do Oriente, idéia a ser revista, tomando como apoio o trabalho desenvolvido pelo norte americano Martin Bernal em sua obra Black Athena: the afroasiatic roots of classical civilization. Apreendendo aspectos de pluralidade cultural da Grécia Antiga, ou seja, que inclua as influências da cultura do Egito, Fenícia e Mesopotâmia, a noção de origem da cultura grega se delineia de maneira mais complexa e rica. Questiona-se a concepção de uma Grécia branca milagrosamente auto concebida, ou melhor, assim concebida estrategicamente para servir a propósitos imperialistas do século XIX, um século racista por excelência segundo Bernal. O tão conhecido "legado" grego teria sido apreendido nos baús dos países europeus colonizadores, como garantia de justificativa para sua pretensa superioridade cultural, afinal herdada dos gregos. A Grécia recortada e colada teria sido a imagem da infância da Europa, enquanto que o Oriente representaria, segundo Edward Said em sua obra Orientalismo, a imagem do Outro por excelência.
Panathenaia: imagens de um festival
Camilla Miranda Martins (Graduanda em História, bolsista IC CNPq/PIBIC)QUINTA-FEIRA (06/11)O Festival das Panathenaias ocorria todo início de ano no calendário Ático, desenvolvia-se em Atenas e tinha por objetivo reforçar a identidade dessa pólis por meio da religiosidade. Dentre as diversas atividades da festa existiam as competições atléticas e de hipismo, que no Período Clássico possuíam como premiação ânforas contendo azeite de oliva e decoradas com imagens tanto das competições como de Atena Promachos, Atena deusa guerreira. E a partir dessas representações pretende-se discutir a relação entre a esfera mitológica e religiosa e a festividade cívica que eram as Panathenaias.
Jean León Gérôme: a reconstrução da Antiguidade a partir da pintura
Fabrícia Minetto (Graduanda em História)QUINTA-FEIRA (06/11)As discussões desta pesquisa centram-se na forma como a Arqueologia trouxe ao campo da Arte uma nova visão do passado, em suas relações com o presente, que buscaram construir uma noção de identidade. Nesta perspectiva destacam-se as pinturas do artista francês do século XIX, Jean-Léon Gérôme. As três pinturas selecionadas para a pesquisa são imagens do Coliseu e fazem parte de uma série de obras produzidas durante as escavações do Coliseu. O artista mantém uma forte relação com a Arqueologia, declara a importância desta, para tornar sua pintura mais verossimilhante com o passado. Expõe várias de suas obras em salões de arte. Desta forma, criam-se memórias que ajudam assegurar e definir uma identidade com o passado. O olhar de um francês para um passado que é Romano pode ser interpretado como uma forma de recuperar a memória de Roma, num momento em que se faz necessário estabelecer uma política nacional francesa, de preservação e recuperação do patrimônio cultural, de reformulação e reafirmação da identidade nacional. Neste sentido, busca-se explorar como as relações de poder entre Estado e as diferentes instituições, mediadas pela Arte e Arqueologia, como estas ajudam na definição e construção do eu em oposição ao outro.
QUINTA-FEIRA (06/11)A pesquisa aqui apresentada iniciou-se como uma tentativa de elaborar um estudo sobre a situação feminina em Roma no Apogeu do Império, a partir da obra de Petrônio, Satyricon. Assim, a partir da Categoria Analítica de Gênero, buscamos evidenciar a pluralidade de figuras femininas deste período. Isto porque é relativamente recente o interesse da historiografia em estabelecer pesquisas sobre tal grupo, especialmente nos trabalhos voltados à Antigüidade Clássica. Em geral este “silêncio” do feminino por parte de alguns pesquisadores é justificado pela falta de fontes que possibilitem o estudo das mulheres romanas. Neste sentido, destacamos o papel essencial da literatura satírica, em diversos momentos desconsiderada pelos pesquisadores como uma fonte histórica devido a sua especificidade. Destacamos que para a elaboração da análise do Satyricon, de Petrônio, aqui apresentada foi essencial o diálogo constante entre Teoria de Gênero, Teoria Literária e a Historiografia referente ao período, além do estudo da língua latina. Finalmente, acreditamos que esta análise interdisciplinar tende a enriquecer as pesquisas históricas referentes ao objeto de estudo apresentado.
Ocidente, o Outro de Bizâncio. O olhar bizantino de Ana Comena sobre o Ocidente através de "A Alexíada"
Fábio Lins (Graduado em Letras pela UFRJ)QUINTA-FEIRA (06/11)A civilização que nos acostumamos a chamar de Império Bizantino representou uma outra via possível de realização da herança greco-romana e judaico-cristã. Durante eras, desde Carlos Magno e passando especialmente por Hieronymus Wolf e Montesquieu, o ?as??e?a ??µa???, Império Romano, foi descaracterizado de sua romanidade como parte do processo de formação de identidade da civilização que hoje chamamos de Ocidental. Nesta breve comunicação desafiaremos os participantes a mudarem o ângulo de visão e verem o Ocidente desde o ponto de vista do Basiléia Romaíon, através dos eruditos olhos da primeira historiadora de relevo da humanidade, a princesa constantinopolitana Ana Comena em sua grande obra "A Alexíada", na qual, testemunha entre outros eventos, a Primeira Cruzada.
James Joyce e o romance como forma de instituir um Outro
Prof. Dr. Caetano Waldrigues Galindo (UFPR)
SEXTA-FEIRA (07/11)Se a linguagem romanesca (Bakhtin) é por excelência o terreno da representação e do convívio de discursos vários, mediados que são, num processo que apenas acrescenta níveis e complexidade a esse convívio, pela ambígua presença da figura de transição entre o literário e o criado que é o narrador, James Joyce pode representar em seus três romances uma síntese perfeita dessa idéia e desse caminho. Através da novamente ambígua persona de Stephen Dedalus (poeta e personagem, personagem e preposto do autor), Joyce nos oferece, entre Um retrato do artista quando jovem e Ulysses uma trajetória que, primeiro, estabelece um eu devidamente problematizado por seu próprio lugar instável e, depois, gradativamente o coloca em contato com outros eus e outros mecanismos de convívio. Além disso, na segunda metade do Ulysses esse processo começa a ser vigorosamente questionado a partir de um ponto de vista talvez metaliterário, que levará a uma conclusão incrivelmente poderosa e belíssima no ultra-romance que será o Finnegans Wake. Esse processo de aceitação da incorporação do outro pode ser a síntese da experiência romanesca, ou da experiência humana em ao menos um sentido muito importante.
SEXTA-FEIRA (07/11)Publicado em 2001, o álbum As meninas reúne reproduções das pinturas de Paula Rego (1935) e textos de Agustina Bessa-Luís (1922). Na longa lista das obras agustinianas, essa poderia tanto estar na série das biografias como na dos textos que tratam de imagens, que não são poucos. Interessa analisar no texto de Agustina as marcas de sua subjetividade ao interpretar as pinturas de Paula Rego, pois ao fazê-lo associa as pinturas com biografemas da pintora, com quem estabelece uma relação de identidade. Como se sabe, isso acontece igualmente em outros textos, nomeadamente em Longos dias têm cem anos – presença de Vieira da Silva, de modo que é possível estabeler uma certa poética das biografias da autora.
SEXTA-FEIRA (07/11)A busca da inclusão/exclusão do Outro a partir da historiografia nos leva a considerar caminhos temporais na relação Mesmo/Outro. Na Modernidade do início do século XX, a cultura urbana acentua o caráter do Outro próximo, muito próximo. Essas considerções temporais nos auxiliam a repensar historicamente a questão.
Formas radicais de alteridade: a ficção científica de H. G. Wells
Prof. Dr. Vidal Antonio Azevedo Costa (UFPR)SEXTA-FEIRA (07/11)Dentro da proposta de trabalhar a alteridade, uma das formas literárias mais prolíficas é a da ficção científica, na qual a figura do Outro é habitualmente presente, seja como elemento de conflito ou de autoconhecimento, uma figura que pode funcionar como instrumento para explorar nossos medos ou as falácias de nossas aspirações e ainda servir como espelho invertido no qual o autor pode revelar seu olhar diante da humanidade. Tanto no formato da crítica ou sátira, na aventura ou no drama, os textos de ficção também desfrutaram de uma liberdade que lhes outorgava, pelo viés da narrativa fantasiosa, do direito de abordar temas que outros gêneros ignoravam ou receavam abordar. Nesse sentido, a figura do Outro na ficção científica serviu como árbitro da natureza humana, desvelando-a diante de um leitor que, de outro modo, estava por demais submerso em sua própria realidade para poder reconhecê-la sem esse artifício. Entre os muitos autores que utilizaram esse processo em suas criações, selecionamos um dos pais da ficção científica, H.G. Wells, como objeto dessa apresentação – que se voltará a três de seus trabalhos – A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos.
SEXTA-FEIRA (07/11)Com Dr Jekill e Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson tornou-se conhecido com um dos mais polulares clássicos da literatura moderna. A obra tornou-se célebre e foi adaptada diversas vezes para o cinema. Retornar a ela e a seu exame literário, contudo, é oportuno, uma vez que, através do depoimento de Dr. Jekill, é não apenas a natureza dupla do homem o que está em pauta, mas, especialmente, a própria condição da narrativa de retratá-la adequadamente.
O "Projeto de Ética Mundial": Hans Küng e os limites do diálogo inter-religioso
Prof. Dr. Paulo Astor Soethe (UFPR)SEXTA-FEIRA (07/11)O teólogo suíço Hans Küng (*1928), professor emérito da Universidade de Tübingen, Alemanha, autor de dezenas de livros de grande visibilidade internacional, propôs a partir de 1990 o assim chamado "Projeto de ética mundial". Esse projeto ganhou especial importância a partir do Onze de Setembro de 2001. Küng foi convidado pela ONU, por exemplo, a participar de um conselho de notáveis que discutiria os limites e possibilidades do novo cenário internacional. A comunicação apresentará as idéias centrais do projeto, cuja execução se dá por diversas publicações e pela atuação institucional da Fundação de Ética Mundial, com sede em Tübingen, e refletirá sobre as noções de alteridade aí implícitas.
SEXTA-FEIRA (07/11)Pretendo discutir neste trabalho o papel do pathos do enuciatário na constituição do ethos do enunciador, segundo a caracterização que tais conceitos recebem nas recentes teorias do discurso, a partir de sua caracterização retórica clássica. Focalizarei três momentos da constituição discursiva de um ethos gaúcho: no manifesto separatista de Irton Marx (analisado por D. P. de Barros); nas piadas de gaúcho (analisadas por S. Possenti); e, finalmente no manifesto estético de Vitor Ramil, A Estética do Frio. O trabalho busca delimitar a forma como se dá a constituição de um ethos autoral nos três diferentes casos, a partir da assunção consensual de um simulacro do gaúcho que circula socialmente.
SEXTA-FEIRA (07/11)No filme Caché, dirigido por Michael Haneke, a discussão acerca dos limites entre realidade objetiva e representação artística é articulada à problemática da identidade num exercício cuja função é tensionar os limites entre o real e a ficção, entre o próprio e o outro. Aqui, nenhuma fronteira é respeitada, obrigando-se o espectador a refletir sobre o que, afinal, significa a máxima acerca de uma imagem valer mais do que mil palavras.
Refiguração de personagens gregas na obra de Agustina Bessa-Luís
Edenílson Mikuska (Mestrando em Letras – UFPR)SEXTA-FEIRA (07/11)Este trabalho tem por objetivo examinar de que forma se dá a apropriação do relato biográfico de personagens históricos pelo discurso romanesco em Ordens Menores (1992), da ficionista portuguesa Agustina Bessa-Luis; nesta obra, com efeito, a relação entre o professor Natan e Luis Matias aparece como refiguração da relação entre as figuras históricas de Sócrates e Alcibíades.
SEXTA-FEIRA (07/11)Uma das vertentes das Epistulae morales ad Lucilium é o ensinamento de exercícios espirituais destinados ao aperfeiçoamento moral do destinatário. Em conexão com tais exercícios encontramos um tema recorrente: o de diversos “outros” que vivem ou podem viver em nosso interior e lá desempenham o papel de companheiros, testemunhas, ou mesmo juízes. Assim aparecem as figuras da conscientia (como em epist. 43.4-5), da divindade que vive em nós e tudo vê (83.1), ou de personagens históricas que tomamos como modelos e passam a se relacionar conosco no plano da imaginação (11.8-10). Nota-se também nas Cartas a presença constante do discurso citado (como em 7.10), de interlocutores anônimos (9.9), de réplicas imaginárias representando possíveis objeções ou perguntas de Lucílio (2.4), ou de citações de palavras que o próprio Sêneca teria pronunciado ou pensado em outras ocasiões (8.3-5). Tais procedimentos estilísticos sugerem que o problema do “outro” interiorizado manifesta-se não apenas como temática da correspondência entre Sêneca e seu pupilo: as Cartas já são também um exercício de meditação cum dialogo, e nelas diversas instâncias de alteridade dão a Sêneca a oportunidade de confrontar suas idéias com pontos de vista diferentes do seu. As Epistulae morales se oferecem como uma obra em que os limites tênues entre o diálogo e o solilóquio são ao mesmo tempo discutidos e dramatizados. A tensão e o magnetismo entre esses pólos (a conversa e o monólogo) se traduzem também nos debates, freqüentes nas Cartas, sobre os prós e os contras de se estar com os outros ou unicamente consigo mesmo.